UMA GOTA DE SANGUE
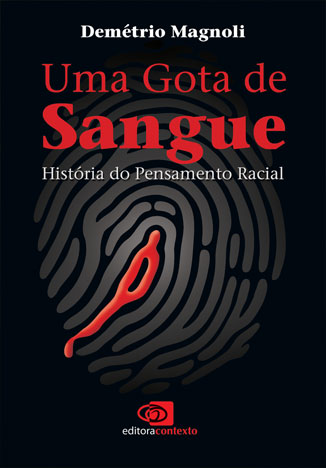
DEMÉTRIO MAGNOLI
Há 100 mil anos, poucas dezenas de seres humanos saíram da África. Seus descendentes, adaptando-se aos diferentes climas, desenvolveram inúmeras tonalidades de cor da pele.
Um dia, alguns voltaram. Primeiro, como comerciantes, adquiriram cativos escravizados pelos próprios conterrâneos. Depois, como conquistadores, impuseram o poder de suas nações sobre a África, alegando que os primos que ficaram faziam parte de uma raça distinta.
A curiosa ideia pegou. Sobreviveu à proclamação dos direitos humanos e à razão científica, difundindo-se no mundo da política. Pessoas de prestígio de todas as cores (até negros!) fingiram acreditar nela - e começaram a passar-se por líderes raciais. Hoje, a pretexto de fazer o bem, traçam-se fronteiras sociais intransponíveis, delineadas com as tintas de uma memória fabricada.
Este livro conta a história de um engano de 200 anos: o tempo da invenção, desinvenção e reinvenção do mito da raça. O nosso tempo.
Introdução
Excesso de cor
"Vossa elevada independência apenas revela a imensurável distância entre nós. [...] A rica herança de justiça, liberdade, prosperidade e independência legada por seus pais é compartilhada por vocês, não por mim. A luz do sol que derramou vida e cura para vocês trouxe cicatrizes e morte para mim. Este 4 de Julho é de vocês, não meu. [...] Arrastar um homem em grilhões para o grande templo iluminado da liberdade e chamá-lo a se juntar a vocês em hinos de júbilo é zombaria desumana e ironia sacrílega. Vocês pretendem zombar de mim, cidadãos, pedindo-me para falar neste dia?"
Frederick Douglass
Frederick Douglass nasceu escravo, numa cabana em Maryland, em 1818. Sua mãe morreu quando ele tinha 7 anos. Não há certeza, mas possivelmente ela surgira da união entre um africano e um índio americano. O menino nunca conheceu o pai, mas um dia afirmou ter recebido a informação de que seria um homem branco, talvez o proprietário daquelas terras e dele mesmo. De qualquer forma, quando seu presumido pai morreu, ele tinha 12 anos e foi transferido para a família dos Auld, em Baltimore. Sophia Auld, a esposa de seu novo proprietário, não era uma figura qualquer. Sem que o marido soubesse, e desafiando uma lei, ela ensinou o garoto a ler e escrever. Por meio de Sophia, Douglass descobriu o The Columbian Orator, uma coletânea escolar de discursos patrióticos e poemas nos quais ele encontrou a ideia de igualdade entre os seres humanos.
Nos anos seguintes, teve diferentes proprietários e chegou a ensinar dezenas de escravos a ler o Novo Testamento em aulas dominicais numa igreja negra. Em 1838, na segunda tentativa, conseguiu fugir, disfarçado de marinheiro, por trem e vapor, para New Bedford, Massachussets, onde se tornaria um dos mais importantes líderes abolicionistas dos EUA.
O discurso de Douglass do 4 de Julho foi pronunciado em 1852, no Corinthian Hall da cidade de Rochester, Nova York, um lugar hoje transformado em estacionamento no qual discursariam Ralph Waldo Emerson, Charles Dickens e o também abolicionista William Lloyd Garrison. Entre a fuga da escravidão e o convite para se pronunciar na data nacional americana, Douglass colaborou com a Sociedade Americana Antiescravista, escreveu uma autobiografia precoce que fez enorme sucesso, visitou a Irlanda e a Grã-Bretanha, publicou jornais abolicionistas.
Na viagem ao exterior, conseguiu oficializar a sua condição de homem livre, comprada por simpatizantes britânicos, e encontrou-se com Thomas Clarkson, o maior abolicionista inglês, que morreria meses depois, aos 81 anos. O North Star, um dos jornais que criou, tinha como dístico a frase “o Direito não tem sexo – a Verdade não tem cor – Deus é o pai de nós todos e somos todos irmãos”. O caminho de Douglass rumo ao movimento abolicionista foi aberto por um encontro com Garrison, o editor do jornal The Liberator, que falava a uma plateia antiescravista. O ex-escravo tinha 23 anos. Convidado a contar sobre sua vida, causou forte impressão no respeitado abolicionista, um jornalista e reformador filho de imigrantes do Canadá. Os dois homens colaboraram estreitamente, até que uma divergência filosófica os separou. Garrison classificava a Constituição americana como um abominável contrato escravista e, em 1854, chegou a queimá-la em público, provocando animada celeuma. Douglass refletiu muito sobre o assunto e, sob a influência de Lysander Spooner, um anarquista individualista, concluiu que, ao contrário do que apregoava Garrison, a Constituição é, essencialmente, um documento antiescravista. No texto constitucional, o instituto da escravidão encontra-se implícito nas seções 2 e 9 do artigo 1°, que mencionam “todas as outras pessoas” (isto é, os escravos) ou a importação de pessoas (isto é, o tráfico escravista). Entretanto, só está explícito numa Emenda fracassada, de 1861, que pretendia proibir o Congresso de interferir em leis estaduais escravistas, e na célebre 13ª Emenda, de 1865, que aboliu a escravidão. Douglass extraía disso, e sobretudo da força do princípio constitucional da igualdade, as razões para seu apego ao texto fundador da nação americana. A acusação de Douglass, no Quatro de Julho de 1852, não se voltava contra os princípios fundadores dos EUA, mas contra a traição a eles:
"De pé, aqui, identificado com o americano cativo, fazendo meus os males que o afligem, não hesito em declarar, de toda a minha alma, que o caráter e a conduta desta nação nunca me pareceram mais deploráveis que neste 4 de Julho! [...] Os EUA são falsos com o passado, falsos com o presente e solenemente se consagram a serem falsos com o futuro. Nesta ocasião, ao lado de Deus e do oprimido e ensanguentado escravo, eu ousarei – em nome da humanidade que é ultrajada, em nome da liberdade que é acorrentada, em nome da Constituição e da Bíblia, que são desprezadas e iludidas – a desafiar e denunciar, com toda a ênfase que posso reunir, tudo o que serve para perpetuar a escravidão – o grande pecado e a vergonha dos EUA."
O abolicionismo de Douglass representava uma forma de adesão aos EUA – não o país da escravidão, mas o da liberdade anunciada na Declaração de Independência e na Constituição. Ele tentou demover o abolicionista radical John Brown de seu plano de organizar uma rebelião armada no Sul e desaprovou o ataque ao arsenal federal de Harpers Ferry, na Virgínia Ocidental, primeiro e fracassado passo do projeto insurrecional. Com a eclosão da Guerra Civil, precipitada pelo ato de Brown, Douglass conclamou os negros a se engajarem nas tropas da União e, em 1863, conversou com Abraham Lincoln sobre o tratamento que se dispensava àqueles soldados.
Depois da guerra, defendeu o sufrágio universal e os direitos das mulheres. Durante os anos da Reconstrução, um tempo curto de reformas liberais nos estados da antiga Confederação, Douglass presidiu um banco federal voltado para o desenvolvimento das comunidades negras no Sul, apoiou as iniciativas de repressão à Ku Klux Klan e serviu em postos diplomáticos no Haiti e na República Dominicana. Em 1876, pronunciou seu discurso mais comovente na cerimônia de inauguração do Memorial à Emancipação (também conhecido como Memorial a Lincoln), em Washington.
A Reconstrução terminou em 1879, quando as velhas elites sulistas retomaram o controle dos governos estaduais. Diante da reação, formou-se um movimento que chamava os negros a deixarem o Sul, transferindo-se para comunidades fechadas no Kansas. Douglass reprovou ativamente a iniciativa e tomou a palavra em reuniões do movimento para, enfrentando as vaias das plateias, dissuadir os negros da ideia de separação física. Ele conclamou à resistência e, nas piores condições, continuou a acreditar no sonho da nação única. Anna Murray Douglass, a esposa com quem Frederick viveu desde a fuga do cativeiro, morreu em 1882. Dois anos depois, ele se casou com Helen Pitts, uma feminista branca de Nova York, desafiando o tabu que pesava contra as uniões inter-raciais. Em 1888, na Convenção Republicana, um delegado do partido votou em Douglass para candidato a presidente dos EUA. Num comício em Jacksonville, na Flórida, 120 anos mais tarde, um dia antes da eleição presidencial, Barack Obama concluiu seu discurso parafraseando Douglass: “Não imaginem por um minuto que o poder concederá qualquer coisa sem uma luta...”.
De Douglass a Obama, passando por Martin Luther King, um fio antirracial percorre dois séculos da história dos EUA. Os três, em circunstâncias distintas, ergueram-se como arautos do princípio da igualdade e insistiram em interpretar a nação americana por esse prisma. Contudo, uma poderosa corrente da história americana articulou-se em torno do mito da raça, isto é, do princípio da diferença,
não da igualdade. Douglass combateu a escravidão e triunfou, mas, antes ainda de morrer, assistiu à edição das primeiras leis de segregação racial. Luther King insurgiu-se contra as leis segregacionistas e também triunfou, mas, na hora de seu assassinato, o mito da raça já ressurgia com todo o vigor sob a forma paradoxal das políticas de discriminação reversa. Obama separou-se das políticas de preferências raciais e deu um passo adiante, definindo-se como um mestiço, num país que continuava a classificar os cidadãos segundo critérios de raça. No tempo de Douglass, a ciência estabelecida e o senso comum acreditavam que a humanidade se dividia em raças. Essa crença já estava desmoralizada quando Luther King conduziu a campanha pelos direitos civis. Mesmo assim, a raça foi reintroduzida na lei poucos anos após o assassinato do líder que não só reivindicava a igualdade, mas também acalentava o sonho de uma nação na qual ninguém seria avaliado pela cor de sua pele. Na exata hora em que, finalmente, o Congresso e a Corte Suprema adotavam a interpretação da Constituição preconizada por Douglass, a emergência da doutrina política do multiculturalismo voltou a desafiar o princípio da igualdade. A partir da década de 1970, e sob o amparo de um consenso entre lideranças negras, ativaram-se os motores de programas que fazem da cor da pele o critério de distinção entre candidatos a contratos governamentais, postos no serviço público e vagas nas universidades.
“Afro-americanos”: a expressão, inventada junto com o multiculturalismo, não é mais que um reflexo pós-moderno da antiga visão da África como pátria de uma raça. Foi precisamente essa visão, importada do racismo clássico, que orientou
a corrente predominante do movimento negro nos EUA, antes e depois de Luther King. É ela, igualmente, que sustenta os projetos de políticas de preferências raciais no Brasil dos nossos dias. A relação entre a cor da pele e uma origem racial e geográfica está presente, como não poderia deixar de ser, na própria África.
Mia Couto, escritor moçambicano, discute a contrariedade de jovens de seu país com a atitude identitária do célebre ex-futebolista Eusébio da Silva Ferreira, nascido em Moçambique e herói da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 1966, que se declara português de nacionalidade e coração:
O caso de Eusébio pode ser revelador de outros fantasmas. A pergunta é: por que razão os africanos pretos não se podem converter numa outra ‘coisa’? Se existem brancos que são africanos, se existem negros que são americanos, por
que os pretos africanos não poderão ser europeus?
O escritor dá um passo à frente:
Existem hoje centenas de milhares de pretos que nasceram na Europa. Estudaram, cresceram, absorveram valores. Converteram-se em cidadãos dos países em que nasceram. A grande maioria vai viver para sempre nesses países. Terão filhos e netos europeus. E não podem cair na armadilha de reivindicar um gueto, uma espécie de cidadania de segunda classe que toma o nome de “afro-europeu”.
Raça é, precisamente, a reivindicação de um gueto. O nome desse gueto é ancestralidade. A vida de um indivíduo que define o seu lugar no mundo em termos raciais está organizada pelos laços, reais ou fictícios, que o conectam ao passado. Mas a modernidade foi inaugurada por uma perspectiva oposta, que se coagula nos direitos de cidadania. Os cidadãos são iguais perante a lei e têm o direito de inventar seu próprio futuro, à revelia de origens familiares ou relações de sangue. A política das raças é uma negação da modernidade. Entretanto, a negação multiculturalista da modernidade é um fenômeno moderno.
A “ciência das raças” nasceu no final do século XVIII, junto com a Revolução Francesa e a consolidação do conceito de cidadania, e se desdobrou na forma de depravações extremadas até a Segunda Guerra Mundial. As políticas de preferências raciais disseminaram-se no pós-guerra, não muito depois da proclamação solene da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do repúdio mundial ao racismo nazista. A mensagem do multiculturalismo é que o princípio da igualdade pode ser uma bela declaração, mas a realidade verdadeira é formada pelas diferenças essenciais entre as coletividades humanas.
O “racismo científico” plantou as raças no solo da natureza, definindo-as como famílias humanas separadas pelas suas essências biológicas. Quando a ciência desmoralizou essa crença anacrônica, o multiculturalismo replantou as raças no solo da cultura. O argumento dos multiculturalistas, expresso sob formas diversas mas bastante similares, é que as raças são entidades sociais e culturais. Com base nisso, a política das raças, que parecia condenada a desaparecer na hora da abertura dos campos de extermínio nazistas, ressurgiu triunfante nos mais diferentes pontos do planeta.
A produção de raças não exige distinções de cor da pele. Basta – como sabem os nigerianos, os quenianos e os ruandeses – a elaboração de uma narrativa histórica organizada a partir de cânones étnicos e, crucialmente, a inscrição dos grupos raciais nas tábuas da lei. A distribuição de privilégios segundo critérios de etnia ou raça grava nas consciências o senso de pertinência racial. A raça é uma profecia autorrealizável.
As raças se apresentam, invariavelmente, como entidades muito antigas, com raízes fincadas na primavera dos tempos. De fato, elas são construções identitárias modernas ou, no mínimo, reelaborações recentes de identidades difusas de um passado mais profundo – como sabem os indianos, os malasianos e os bolivianos. A raça é fruto do poder de Estado que rejeita o princípio da igualdade entre os cidadãos.
As políticas americanas de ação afirmativa baseadas na raça serviram de modelo para a África do Sul e o Brasil. Na África do Sul, o princípio da diferença racial, fixado nas leis e nas consciências desde a colonização até o regime do apartheid, forneceu o quadro lógico para as novas políticas preferenciais do black economic empowerment. No Brasil, ao contrário, o princípio da igualdade política encontra amparo na poderosa narrativa identitária da mestiçagem, que borrou as fronteiras de raça. Mesmo assim, em nome do multiculturalismo, o governo de Fernando Henrique Cardoso ensaiou dividir os cidadãos em “brancos” e “negros”, e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva patrocinou a introdução das primeiras leis raciais da história brasileira.
No último ano do século XX, os cientistas que sequenciaram o genoma humano declararam a morte da raça. O mito da raça, entretanto, no lugar de se dissolver como uma crença anacrônica, algo parecido com a antiga crença em bruxas, persiste ou renasce na esfera política, desafiando a utopia da igualdade. É como se dissessem a Douglass que o 4 de Julho jamais poderá ser o seu dia.



